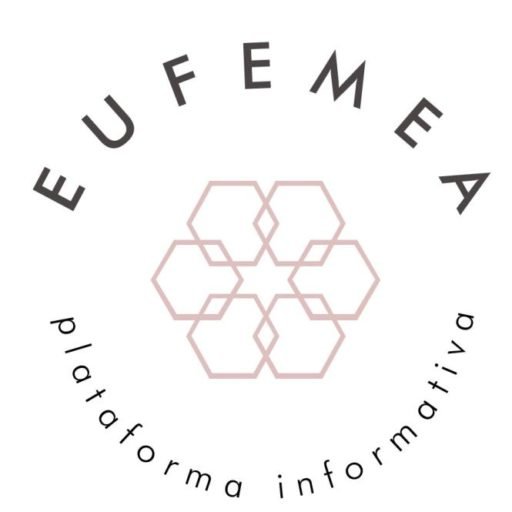Foto: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)/Governo Federal
Texto: Sara Albuquerque
–
Já faz três anos que trabalho com divulgação institucional e, ainda assim, meus olhos se tecem alagados quando preciso comunicar o falecimento de um colega que muitas vezes só-conheço-pelo-nome; ou o lançamento de uma nova campanha de vacinação ou do agasalho; ou um cartão com mensagens de carinho para um servidor que vai se aposentar; ou a prorrogação de medidas temporárias devido a situações de calamidade (como na pandemia).
A humanidade, em si, me emociona fácil: eu choro de riso, de gozo, de aflição, de raiva, de culpa ou em paz, choro só de ver outro alguém chorando (tendência genética a neuroticismo ou lua em câncer?).
Parar e chorar, porém, não me levariam a nenhum horizonte se meu objetivo era auxiliar outras pessoas (muito mais afetadas do que eu) pela devastação que tem assolado o Rio Grande do Sul. Há emergências que nos exigem a praticidade da razão no enfrentamento do dia a dia, inclusive, no serviço público.
Na segunda-feira (29/04), os temporais deram início a uma sequência de desastres em várias cidades gaúchas: enchentes, transbordamentos de rios, casas embaixo d’água, tempo relativamente longo para execução dos resgastes de quem estava ilhado (devido à inexistência de um plano de redução de danos – estrutura e recursos humanos – para lidar com infortúnios desta magnitude), a flora diluída, a fauna desconcertada, os humanos, quando vítimas, se ainda vivos, em choque.
Não é como se eu desconhecesse a sensação de viver longe de uma redoma de vidro. Passei vinte e seis anos morando no Salvador Lyra, um dos conjuntos que compõem a bacia do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, que constantemente sofre enchentes devido à precária macrodrenagem do lugar.
Lembro-me das vezes que não conseguimos ir para a escola pela falta de percurso desalagado até o ponto de ônibus; do campo do Marituba mais parecendo um grande rio, toda vez que chovia, toda vez; da Casa de Show que não vingou na região, porque terminou debaixo d’água ao som de uma banda de forró; da minha Escola da terceira série que, depois de perder todo o mobiliário de mesas e cadeiras numa das enchentes, preferiu vender o terreno, à beira do Distrito Industrial; do transbordamento frequente dos dois açudes que margeavam duas das ruas principais; da Defesa Civil orientando várias famílias a saírem de suas casas, sob risco de inundação, na parte mais baixa do conjunto; da linha de ônibus mudando o trajeto diante das vias submersas no Dubeaux Leão, tendo que subir até a Via Expressa, atravessar o Cambuci e só então alcançar a Santa Lúcia; da água cobrindo nossa calçada (numa quadra mais distante dos açudes) e, mesmo acumulando só até o piso inclinado da garagem, mainha distribuía vários panos num formato de rolo bem coladinhos no rodapé da porta de entrada, evitando que, com a chuva de vento, a água não ultrapassasse para a sala.
Um dia de cada vez.
Na terça-feira (30/04), precisei repassar, com urgência, a divulgação do cancelamento do expediente presencial em quatro comarcas estado adentro, afetadas diretamente pela brutalidade da chuva que não parava de cair desde o dia anterior. Em seguida, porque o reconhecimento da fatalidade implica em ações de empatia (antes a solidariedade que o negacionismo), na medida que outros órgãos públicos parceiros se apressavam em expedir comunicados (de pronto ou a pedido), informando a suspensão no curso dos prazos, devido à calamidade, busquei encaminhá-los a todos da minha instituição o mais rápido que pude.
Já no dia seguinte (01/05), feriado dos que-sobem-na-construção-como-se-fossem-máquinas, tornou-se impossível se desconectar da televisão e da tela do celular. Eu e Gabriel nos pegávamos assustados com a dimensão aceleradíssima que a catástrofe vinha tomando: crescia o número de mortos, de ilhados, de desabrigados, de moradias invadidas pela água, de pontes e estradas destruídas, de peixes nadando na sarjeta, de municípios quase inteiros em ruínas.
Infelizmente, não é como se eu desconhecesse a sensação de viver num estado com problemas massivos como este. Em 2010, quando ainda morava em Alagoas, as cheias dos rios Mundaú e Paraíba arrasaram 19 municípios, num estado que tem o total de 102: ficaram desalojadas 44 mil pessoas e, desabrigadas, 28 mil. Lembro-me das ações solidárias que fizemos na Universidade à época, por meio do Programa UFAL em Defesa da Vida; de andar arrasada lama atrás de lama, percorrendo os destroços da cidade de Branquinha para entregar as doações; de ler, às lágrimas, anos depois, o livro “A menina de barro” (Iogram, 2013), da minha querida amiga Gianinna Bernardes, que, de forma tão sensível, conta sobre uma das cheias do Mundaú.
Há apenas quase dois anos, em julho de 2022, as fortes chuvas afetaram todas as bacias hidrográficas de Alagoas, resultando numa enchente mais trágica ainda que a de 2010, quando 57 cidades decretaram situação de emergência e 68 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Não faz muito, a Lei nº 9.214, de 15 de abril de 2024, reconheceu o estado de emergência climática em todo o estado.
Um dia de cada vez.
Na segunda manhã de maio (02/05), pela urgência, meu expediente já começou em casa, para repassar a comunicação de que, pelos próximos dias, dadas as consequências dos temporais, vinte e seis comarcas restariam fechadas: Agudo, Antônio Prado, Arroio do Meio, Arroio do Tigre, Candelária, Charqueadas, Encantado, Estrela, Faxinal do Soturno, Feliz, Guaporé, Lajeado, Nova Prata, Parobé, Restinga Seca, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Sebastião do Caí, Sobradinho, Soledade, Taquari, Teotônia, Três Coroas, Vera Cruz e Veranópolis. Vinte e seis comarcas. [Pelo celular, acompanhava com Gabriel a saga da minha concunhada e seus filhos, que precisaram enfrentar a estrada, mesmo com os rios tangenciando as margens de ambos os lados, para conseguirem retornar à cidade onde moram, embaixo daquele tempo nocivo].
Já no prédio do trabalho, mais longe do Guaíba, a tarde enveredou no mesmo ritmo dos avisos sequenciais do turno anterior, com trovoadas, não só ao fundo, mas também no meu coração, que se angustiava com uma notícia atrás da outra sobre o bairro onde moro há quatro anos, o Centro Histórico, sob alerta de inundação.
Foi naquela tarde que eu e Gabriel compreendemos o quanto todo aquele cenário tendia a piorar com a previsão para os próximos dias, chuvas e mais chuvas. Resolvemos, assim, coletar alguns baldes e potes de água por prevenção, teríamos o suficiente para uns sete dias corridos. Alimentos, também. Por ora, adaptados, voltamos nossa energia a fazer o que podíamos (dentro das nossas condições financeiras e limitações de saúde) para fortalecer a rede de apoio dos nossos amigos mais próximos que, ou tiveram suas residências diretamente afetadas, ou, mesmo sob um telhado, corriam o risco de se sentirem desamparados, por, assim como eu, estarem longe da família.
Da quinta para a sexta-feira (03/05), dormimos muito apreensivos. A sensação era a mesma do início da pandemia, um vazio confuso, grande demais para dimensionar; um não-saber-o-que-fazer constante; um ninho de dúvidas e ponderações. Acordamos assombrados com as notícias da vizinhança: o Guaíba já havia avançado pelo Mercado Público, onde eu e Gabriel, de rotina, visitávamos para comprar sua erva-mate favorita, a Canarias, e onde planejávamos ir ainda este mês, curiosos para almoçar no restaurante japonês Sayuri, por sugestão da aguçada Chinita.
Pouco tempo depois, já estavam inundadas a Avenida Sepúlveda e a Rua Siqueira Campos, percurso que fizemos dançando com nosso grupo de amigos no HONK (festival de fanfarras ativistas que defende a ocupação das ruas como um processo de resistência coletiva e artística), bem no finalzinho de abril, este mês que poderia ter sido “ontem”, mas, com a infinidade de acontecimentos recentes, agora, parece já tão distante.
Não demorou para que ficasse alagada, também, minha queridinha Rua Uruguai, a primeira memória de localização geográfica que tenho de Porto Alegre, onde, em fevereiro de 2017, na imobiliária, peguei a chave do apartamento onde eu passaria a morar.
E a enchente não parou ali: tomou toda a Praça da Alfândega (palco de tantas Noites do Museu e Feiras do Livro); as instalações do Farol Santander, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, da Casa de Cultura Mário Quintana (onde fica nossa querida Livraria Taverna) e de outros órgãos tombados como patrimônio histórico; centenas de pontos de comércio e serviço; prédios; residências; e, ainda, grande parte da orla do Gasômetro, onde, em 23 de março deste ano, Gabriel e Maurício terminaram a noite de comemoração dos seus aniversários arianos, depois de atravessarmos o bairro pela madrugada num carnaval de rua popular e democrático, guiado, em verde e vermelho, pelo Arrastão da Turucutá que, naquele dia, igualmente comemorava sua existência, 16 anos de travessia.
Um dia de cada vez.
Naquela sexta, passei a manhã no prédio do meu trabalho, em expediente presencial. Mas, à semelhança de outros lugares, por volta de meio-dia, fomos liberados para continuar o serviço de forma remota. De fato, a cidade estava alarmante: o meu trajeto de ida que, em dias comuns, demora vinte minutos, levou quarenta, por causa de um arrodeio atrás do outro para sair do Centro Histórico com as vias alagadas.
A diretriz era que nos abstivéssemos de usar combustível em veículos próprios, já que as ambulâncias e os carros de bombeiros haviam passado a ser prioridade diante do caos. Da mesma forma, as avenidas (as ainda transitáveis) deveriam ficar livres para estes transportes emergenciais que passavam para lá e para cá (o dia inteiro, as sirenes se impondo aos quero-queros).
Então, já de volta ao meu recanto, na Rua Avaí, reiniciei o expediente, revezando entre o encaminhamento de portarias emergenciais e a organização de material de divulgação para um Mutirão de profissionais voluntários e uma Campanha de arrecadação para que a nossa unidade de trabalho passasse a ser ponto de coleta para doações às vítimas daquela tragédia que, pelo visto, hoje, reconheço, só estava engatinhando.
À noite, depois de uma odisseia, minha mente se contraía tão exausta que só tive pesadelos. Pena que não acabaram quando me amanheci e notei, já em pé, no banheiro, sábado (04/05): nem um pingo na torneira. No aviso do elevador, o pedido da Administração não podia ser mais objetivo: “evitem o desperdício dando descargas, tomando banhos demorados e usando máquinas de lavar”.
Só restava o reservatório do condomínio, os moradores dos cinquenta apartamentos deveríamos economizar, mas o impressionante foi que, com o Guaíba avançando pelo bairro e alguns dos nossos vizinhos já tendo seguido viagem para se ampararem em outro refúgio, ainda assim, a água do prédio acabou naquele mesmo sábado. De noite, já acumulávamos pratos sujos e passamos a tomar banho de cuia.
Até que a escuridão caísse, porém, fomos no Mercado Lima e Silva comprar velas, para o caso de faltar luz elétrica, como já acontecia nos arredores. Peguei a última, sim, a última embalagem de velas do estabelecimento: dividimos o pacote com nosso amigo Maurício, que mora no mesmo prédio que a gente. No estampado do escuro, não ficaríamos.
Ao retornar, acompanhamos, com pavor, a cobertura jornalística da tragédia, que já evidenciava a falta de itens da cesta básica nas grandes redes de mercado; a procura incessante das pessoas por água potável; o pedido por jet-skis, barcos, canoas, o que pudesse servir de transporte para o resgate das pessoas ilhadas; os acenos e panos vermelhos pendurados nas janelas; o chamado improvisado do SOS no telhado das casas; as cenas desoladoras de cachorros, cavalos, galinhas, gatos, numa tremedeira incessante, os olhos em pânico; a súplica por voluntários e mais voluntários. Pelos grupos do Whatsapp, ao mesmo tempo, recebíamos notícias sobre as nossas amigas: Bibi, que perdeu não apenas seu lar, mas também seu consultório odontológico, em Canoas; e Júlia (a Ju), que teve sua Casa Tomada, num bairro que se chama Menino Deus, mas, do qual, o Guaíba não teve misericórdia.
Um dia de cada vez.
No domingo (05/05), três da madrugada, escrevi nas redes sociais, pela primeira vez, sobre o assunto. Informei o mínimo, que estávamos “seguros”, na medida do possível. Quem estava preocupado conosco poderia se tranquilizar.
A bem da verdade, no entanto, em nossos telefones, não parávamos de trocar mensagens de abatimento, indignação, mas também solidariedade, cada um disposto a ajudar como podia. E, estando a família de Gabriel em segurança no norte do estado, focamos em descobrir como andavam os nossos amigos e conhecidos da vizinhança, Renata, Matheus, Caio, Cacá, Anelize, Natália, André, Gabi, Andressa, Andrezza, Maria Willi, Jeison, Ananda, Cris. Recebíamos notícias menos ruins de uns, terríveis de outros. Ninguém estava “bem”: o Guaíba alcançou a marca de 5,35 metros (segundo a ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), a maior enchente da história do estado.
A inquietação não dava trégua. Cheguei a ponto de segurar as mãos de Gabriel e implorar que ele me prometesse cumprir o plano-de-fuga-infalível-da-minha-cabeça: se o Guaíba chegasse no nosso prédio, ele deveria agarrar a Luna e subir pelas escadas até o terraço, enquanto eu desceria dois andares para buscar Maurício e, depois, nos encontraríamos lá em cima.
Gabriel pediu que eu me acalmasse. Moramos no último andar de um prédio muito alto: num cenário de pior projeção, com o rio chegando a uma altura de 5,5 metros, diziam as pesquisas, o máximo que poderia acontecer seria molharmos os calcanhares, quando no térreo (o que não era “nada”, perto das perdas e situações de vulnerabilidade que outras pessoas estavam vivendo). Naquela noite, nos reunimos eu, Gabriel, Maurício e Iuri (que mora na rua ao lado), para conversarmos pessoalmente sobre como iríamos agir no caso de mais adversidades. Estávamos, ali, uns para os outros.
Na segunda-feira (06/05), nossa rede de apoio aumentou para o número de cinco: desta vez, a Gabriela (a Gabi) e sua cadelinha Rita, vendo o Guaíba já na esquina, precisaram abandonar seu prédio no bairro vizinho, a Cidade Baixa, e vieram se instalar no nosso condomínio, no apartamento do Maurício. Nesse mesmo dia, a República foi igualmente atingida, abarrotando o nosso bar-de-estimação, o Tango. A João Alfredo não passou batida: um grande jornalista do Matinal (que, com muita competência, vem cobrindo tanto a tragédia climática como a tragédia política que se desenrola na capital), o nosso amigo, Gregório, viu-se tendo que retornar às pressas para o seu apartamento (próximo à tão famosa esquina do Ossip/Urso-de-Varsóvia onde comemoramos a vitória da eleição presidencial, em 2022, embaixo de uma chuva muito menos espessa), para conseguir retirar de lá uma coisa ou outra mais importante e não ficar ilhado, encontrando abrigo na casa de Laura.
É quase inacreditável relembrar que estávamos todos juntos naquela mesma João Alfredo, no início de fevereiro deste ano, aos 37 graus Celsius, com direito à carnaval e à mangueira, num evento no terraço daquele mesmo prédio que, àquela hora, perdia-se na inundação.
Daqui a pouco, as notícias eram sobre a José do Patrocínio, onde fica a academia da nossa amiga Priscila, que, sempre tão sensível e proativa, cancelou as aulas daquele dia, para o cuidado dela e de todos: a Defesa Civil mandou evacuar o bairro. Dos bueiros, a água jorrava como numa nascente, os ratos se acumulavam no meio-fio, as pessoas abraçavam suas malas e mochilas como se ali carregassem uma caixa preta, as trocas de olhares soavam como pontos de interrogação.
Onde moramos, na Rua Avaí, a energia elétrica acabou perto do meio-dia. Fiquei impossibilitada de realizar qualquer expediente de trabalho. Não havia wi-fi nem estômago nem cabeça, além da pouquíssima bateria no celular.
Pela noite, jantamos os quatro à luz de velas, angustiados: víamos a movimentação de muitos dos nossos amigos para deixarem a cidade e se instalarem em lugares mais seguros e nos perguntávamos se também deveríamos tomar outro rumo. Então, depois de muitas horas de debate, ponderando entre pegar a única rodovia possível para o norte do estado (sobre a qual recebíamos notícias de vários assaltos) e permanecer no Centro Histórico, decidimos tentar dormir. Naquela noite, cavando a persiana, embora o breu nos esmurrasse as pálpebras, permanecemos no apartamento, por ora.
Um dia de cada vez.
Numa enchente, com a força da natureza somada ao despreparo da cidade para eventos como este, não há muitas certezas. Tudo muda o tempo inteiro. Se agora, o cenário é um, em menos de uma hora, o semblante da paisagem é outro.
Na terça-feira (07/05), corriam relatos da noite anterior: arrombamentos nas casas inundadas do Centro Histórico e da Cidade Baixa, arrastões nos supermercados, pessoas andando com paus e cacetetes pelas ruas. O som dos helicópteros e bombeiros e ambulâncias ecoavam ainda mais acentuados. Ouvimos também rumores da presença de jacaré, búfalo, cavalo, todos em desalento na área urbana. No Mercado Público alagado há cinco dias, baratas e mais baratas.
Da janela do prédio, já avistávamos a Perimetral pintada em aquarela marrom. Restavam inundadas tanto a Praça dos Açorianos, onde eu e Gabriel tomávamos mate com nossos amigos, como parte do Largo Zumbi dos Palmares, onde foi minha primeira batalha de slam, em 2018, e onde também se instalavam as barracas de feira, nas quais Gabriel, como hábito, ia no crepúsculo de toda terça-feira.
Como fazia sol, mas a água do rio estava cada vez mais perto, redobramos o uso de repelente. No primeiro trimestre deste ano, o Rio Grande do Sul teve mais casos de dengue do que em todo o período de 2023.
Para que não ficássemos sem comunicação (tão fundamental nestes dias de tormenta), nosso amigo Fred nos ofereceu sua casa no Petrópolis, onde carregamos os celulares. Os três já chegamos pedindo desculpas pelo abraço sem perfume. Ele também não estava recebendo água no prédio. E foram apenas duas horinhas que passamos juntos no meio daquele caos, mas duas horinhas muito importantes para que a gente conseguisse conversar sobre nossas inquietações e nos permitirmos tomar um café (por que não?), dividindo a mesma colher de açúcar para economizar louça.
Na volta para o Centro Histórico, ainda chegamos a nos deslocar de um mercadinho a outro, para nos reabastecermos de água potável, mas só encontramos garrafas com gás. Velas, nem suspiro. Para nos ajudar, nossa amiga Giuli (que tem montado uma playlist chamada “Letramento gauchesco” para quem quiser se aproximar um pouco mais do estado, conhecendo sua produção musical) nos enviou uma lista de sugestões de alimentos que poderíamos conservar fora da geladeira, mas nem chegamos a comprar.
A previsão do Guaíba era chegar na altura da Lima e Silva, a apenas uma quadra do nosso prédio. No final da tarde, depois de mil hipóteses, nossa rede de apoio mudou de ideia: deveríamos sair dali com urgência, seria um martírio atravessar outra madrugada com tanta insegurança. Precisamos, então, nos dividir: a Gabi e a Rita conseguiram abrigo com o Takeo; Maurício, com a Larissa; Iuri, com o Neco; eu, Gabriel e Luna, com os nossos amigos João, Juliana e Tito, que, não só nos acolheram na paz do seu apartamento numa área mais alta, como se disponibilizaram para nos buscar de carro, facilitando nosso cruzamento pela cidade.
[Surgiram, ainda, ofertas de abrigo nas casas do amigo Fred; e na casa dos amigos Moema e José, a quem nossos corações também se agarram agradecidos; além das muitas mensagens entristecidas de amigos que queriam nos acolher, mas, naquele momento, precisavam igualmente de um teto, o que quer que fosse teto, como foi o caso de André, quem se viu mais seguro acampado num quintal de outra pessoa do que na própria casa].
Um dia de cada vez.
Então, esse era o fim? A mais antiga área urbanizada da capital gaúcha seria engolida pelo Guaíba a se espreguiçar imparável, inesgotável, dramático, os seis braços bem à vontade, esticados, como registrados em mapa recente?
É impossível estar tranquilo vivendo no Rio Grande neste momento, seja pela aflição individual diante das informações oficiais (ou da falta delas), muitas atrasadas e/ou conflitantes, seja pela tristeza reflexa com as inúmeras realidades de destruição, não só no nosso entorno, pois se já somam 445 municípios afetados.
A rede de solidariedade, na medida em que os dias passam, vem ganhando dois rumos: há os que, como uma forma de “abrir mão” dos insumos do município, decidem sair de Porto Alegre arriscando a rodovia (o aeroporto, inundado, segue fechado pelo menos até o final do mês); e há os que decidem ficar, porque, ou planejam atuar como voluntários diretos, ou não têm outra alternativa. Partir da cidade não é uma opção para os que precisam manter uma relação de trabalho presencial, ainda que no meio da desordem, ou para os que, como nós, não temos um carro próprio que nos dê mais autonomia para traçar os caminhos.
Exaustos, os cinco da nossa rede de apoio voltamos a pensar na possibilidade de sairmos daqui: no grupo “ilhados”, partilhávamos uma aflição atrás da outra. O destino, ainda não sabíamos, só queríamos ir embora, sim, queríamos ir embora, e mudávamos de ideia quanto ao ponto de chegada, de tempos em tempos. Capão da Canoa? Imbé? Osório? Florianópolis? Campinas do Sul? Quase, quase que escolhemos ir para Vacaria, cheguei até a conseguir abrigo por lá (na casa da mainha de minha amiga Taiane, sempre muito prestativa e acolhedora). Mesmo que tivéssemos decidido, a frustração logo viria em seguida: não havia carro para alugar em nenhumazinha das locadoras em toda a cidade de Porto Alegre, assim como também estava extremamente difícil conseguir carona entre os nossos.
Não é como se eu tivesse esquecido: nos dias em que o Tabuleiro amanhecia alagado, para pegar o Eustáquio Gomes – Ponta Verde (via Salvador Lyra) e conseguir voltar para casa, depois da faculdade, era preciso ir a pé, subindo a barra da calça e saltando as poças, até o outro ponto de ônibus mais próximo porque, passada a passarela, o chão era rio. Não é como se eu também tivesse esquecido da música costumeira que eu, mainha e Samara cantávamos nas viagens de carro a Palmeira dos Índios: “Ó, Deus, perdoa esse pobre coitado, que, de joelhos, rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem cessar/ Senhor, será que o Senhor se zangou e que, por isso, o sol se arretirou fazendo cair toda chuva que há?”. Não é como se não tivesse ficado várias vezes sem conseguir dormir por causa do filme “Enchente – Quem salvará nossos filhos?”, que vivia passando na Sessão da Tarde, nos anos 90.
Segurando o peso dos olhos durante toda uma semana, só nesta quarta-feira (08/05), consegui chorar.
Um dia de cada vez.
Tão logo o sol apareceu na quinta (09/05), tentei me atualizar das atividades do trabalho de forma remota, embora a cabeça ainda estivesse um lamaçal. Já Gabriel voltou ao nosso apartamento na Avaí para separar roupas de frio, calçados e cobertores, para doação e, antes mesmo de chegar no ponto de coleta para a entrega de cinco sacolas cheias, precisou sair deixando vários dos itens pelo caminho, a pedido dos moradores de rua que, segundo ele, aumentaram consideravelmente na nossa região, cerca de um terço do bairro inundado.
Quando, no final da tarde, ele voltou ao Higienópolis, onde estávamos sem prazo de saída, a gente se abraçou esperançoso. Depois de toda aquela turbulência, estávamos em maior segurança, não era?
Um dia de cada vez, foi o que me disseram mainha, painho, Samara, Alanna, Cledir, Leonir e todas as pessoas que se comunicaram comigo.
Completam hoje (14/05) oito dias que fomos acolhidos com muito zelo pelos nossos amigos. Ficamos feito papagaios, nas primeiras horas, repetindo “obrigada, Ju, obrigada, João”. Quanto a Luna e Tito, continuam se adaptando à presença um do outro no mesmo espaço, permitindo-se uma cheirada na bunda aqui e ali, não sem alguns ciúmes caninos. Quem diria que este amor-de-casa que adiamos tanto para conhecer, na correria dos quatro amigos sempre com a agenda às dunas, seria, hoje, o nosso “lar temporário”. Estamos sentindo muita gratidão, blius.
Gostaríamos, sim, de estar abastecidos com o suficiente para também sermos conforto e morada para outras pessoas, mas, por enquanto, só estamos com seis mudas de roupas, racionando água e enfrentando os dois a nossa timidez ao, de repente, termos de nos instalar na intimidade de outras pessoas, sem perspectivas de data para o tchau, queridos, até logo, mesmo que nossos amigos tenham dito que o que importa é nossa segurança, que a gente tenha tranquilidade quanto à estadia.
Um dia de cada vez.
Embora tenha chovido incansavelmente por três dias (de sexta a domingo) e os raios tenham azedado a vidraça sem piedade; embora as novas previsões indiquem o aumento do Guaíba para 5,4 metros ou além; embora as notícias continuem chegando com mais e mais mazelas sobre o Rio Grande do Sul; quando, no nosso grupo “Berenices”, eu mandei uma mensagem para o Maurício, “eu te amo”, e Gabriel, em seguida, respondeu no grupo, “eu também”, e o Maurício devolveu “amo muito vocês”, a gente abraçou a Luna e conseguiu sorrir por alguns minutos.
A gente conseguiu sorrir por alguns minutos.
A gente conseguiu sorrir.
De volta ao trabalho remoto, nesta segunda-feira (13/05), usando a internet daqui do norte da cidade, preparei mais um material visual para divulgação: nossa instituição, por meio de psicólogos e assistentes sociais voluntários, está oferecendo atendimento virtual, de segunda a sexta, a todos os colaboradores vitimados por esta tragédia.
Um dia de cada vez.
Eu e Gabriel temos conseguido, finalmente, dar conta das palavras.
Quem sabe, escrever seja mais um início, mais um passo no fortalecimento da corrente bonita de solidariedade que tem se estendido por todo o Brasil. Pela leitura, a gente também se abraça e se fortalece, falei isso para minha psicóloga, Vivi, mais cedo, quem tem sido essencial para que eu consiga me dar um norte nisto tudo.
Um dia de cada vez.
Eram umas 7h quando acordei Gabriel, às pressas, e disse “amor, olha!”: vocês ficariam empolgados com o tamanho do céu azul bebê que nos envolveu hoje (14/05), vocês também iam se levantar e pular.
—–
(Fico muito agradecida, não só a meu Nordeste, mas a todos que têm se solidarizado com a situação da terra gaúcha, que é também a nossa terra, o nosso Brasil. À minha família, em especial, agradeço muito pelo apoio de sempre, pelas orações e amparo neste momento. Se você pode ser solidário, ajude o RS!).